
Postado em jun. de 2021
Literatura | Cultura
Leia um trecho de "Lili - novela de um luto"
Leia um trecho da obra Lili, de Naomi Jaffe. Em um relato sobre a morte da mãe, a autora fala sobre o luto e sobre o que fica depois.
O Fronteiras do Pensamento tem o prazer de publicar a abertura do novo livro de Noemi Jaffe, "Lili - novela de um luto", que será publicado pela Editora Companhia das Letras no dia 27 de julho. Neste livro, a autora faz um relato sobre a morte da mãe e "expõe de forma brutal as feridas do luto e o que é possível fazer para vivê-lo".
Quando ela estava morta, eu beijei seu rosto, suas mãos, seu colo. Apertava o pulso, abraçava o corpo, chamava: mãe, mãe. Levantava a mão e a deixava cair.
No dia anterior, quando ela ainda não estava morta, mas quase, eu aproximava meu ouvido do seu peito e ouvia a respiração. Era diferente.
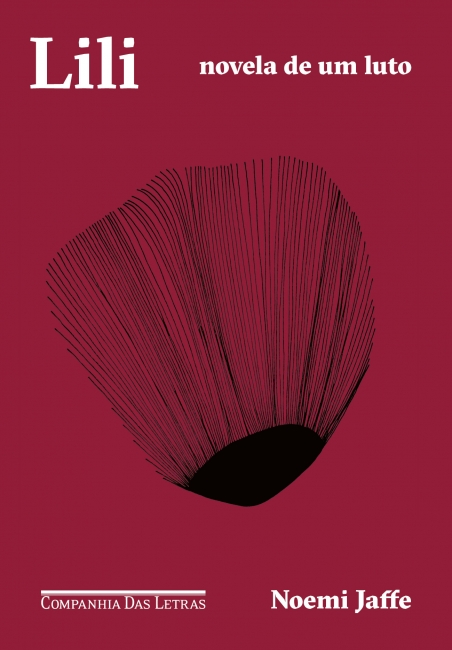
É diferente estar quase morta de estar morta mesmo. É diferente e só sei disso agora que ela morreu.
Se quando ela estava quase morta eu esperava que ela morresse, agora é como se eu a quisesse, se pudesse, quase morta para sempre, só para ouvir sua respiração, a bochecha quente, os dedos da mão se mexendo mesmo que por reflexo, um ronco baixo no peito, o tremor nas pálpebras.
Nunca tinha ficado perto de uma pessoa morta e descoberta. Fiquei perto do meu pai, mas ele estava coberto por um lençol e eu tracei com o dedo o contorno do seu nariz, o que repeti com a minha mãe depois que a cobriram.
Fui a única a permanecer com ela, ela morta. Fiz isso porque precisava, e por que que precisava eu não sei dizer. Para estar mais com ela.
O homem do chevre kadisha me censurou. Disse que quem estava lá não era “mais” ela. Com que rapidez se aceita que a morte subtrai a pessoa; que a morte esvazia o que chamam de alma da pessoa.
Resisti: é o corpo da minha mãe. Era ela ou não era ela? Na hora, para mim, era.
O corpo da minha mãe morta é minha mãe.
Tive a ousadia de abrir os olhos dela, que estavam fechados, e por trás das pálpebras estava lá o olho inteiro, da mesma cor, o mesmo olhar, mesmo que ninguém olhasse por trás dele.
Não foi masoquismo, prazer mórbido. Foi tão simples como uma despedida de amor ou uma dificuldade de se separar.
Nas últimas semanas ela adormecia com frequência enquanto conversávamos e numa dessas vezes ela acordou sobressaltada, gemendo, e eu e a Leda perguntamos, o que foi?, e ela respondeu, a dor da separação.
Ela sabia que ia morrer e, apesar de sempre ter afirmado – e era verdade – não ter medo da morte, no final ela estava com medo, com muito medo. Ela pedia beijos sem fim, não queria largar o abraço e pedia mais e mais beijos.
No penúltimo dia antes da morte, eu aproximei minha bochecha da sua boca e pedi beijos e ela, semi-inconsciente, fazia o gesto de um bico com a boca, chegando uma vez a dar um estalo. Dessa vez, também apertou minha mão e fez que sim e que não com a cabeça.
Por tanto tempo, tive pressa pela morte dela, mas nos últimos dias eu só queria que demorasse para sempre.
Uma pessoa pode ser só o calor da mão. Isso basta para que uma mãe seja uma mãe e para que eu seja sua filha.
Ver o corpo morto e aceitar: mãe, você está morta.
Existe uma aceitação incontornável no corpo morto. Não vou prendê-lo, me agarrar a ele, impedir que ele seja embrulhado, ensacado, encaixotado e transportado por alguém que não conheço – e a quem agradeço com todo o coração – para dentro de uma geladeira. “Deve” ser assim. É horrível e “deve” ser assim.
Dever, aqui, quer dizer muitas coisas: é uma atribuição de maturidade realista, de ritual necessário, de conformação à natureza (esse corpo vai se degradar) e à comunidade (os mortos devem ser enterrados) e uma demonstração de sanidade (não sou louca, não vou me agarrar ao corpo).
E existe uma aceitação existencial, que oscila: aceito, não aceito: ela não existe mais. Minha mãe – o olhar, o sorriso, o beijo e o abraço – não existe mais.
Quando penso nela, penso no olhar, no sorriso que ela abria quando reconhecia que eu tinha chegado, no abraço e nos beijos inumeráveis, sobre os quais ela dizia que “tudo era muito pouco”.
Nos últimos meses, ela se transformou em puro carinho. Tudo nela emanava um amor infantil, que acariciava com o olhar. Era como ser olhada por um filhote cervo, ser abraçada por um leão, ser beijada por um amante que recebe a amada. A mão grossa e quente apertava o meu tronco e as minhas mãos. Falávamos pouco. Ela adormecia e muitas vezes eu dormi no seu ombro, ouvindo a respiração lenta, me sentindo aconchegada. Ela era mãe. Ela se tornou mãe. Ela se reduziu a mãe. Ela era feliz porque tinha as três filhas e nós três éramos o mundo todo, a vida toda para ela e nada mais importava, além de poder nos ver e beijar e abraçar.
>>>Leia a coluna de Noemi Jaffe sobre seu processo criativo: Caos Vibrante


