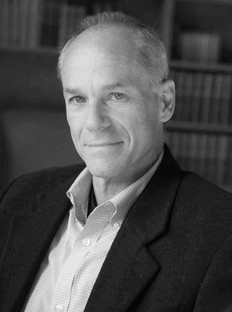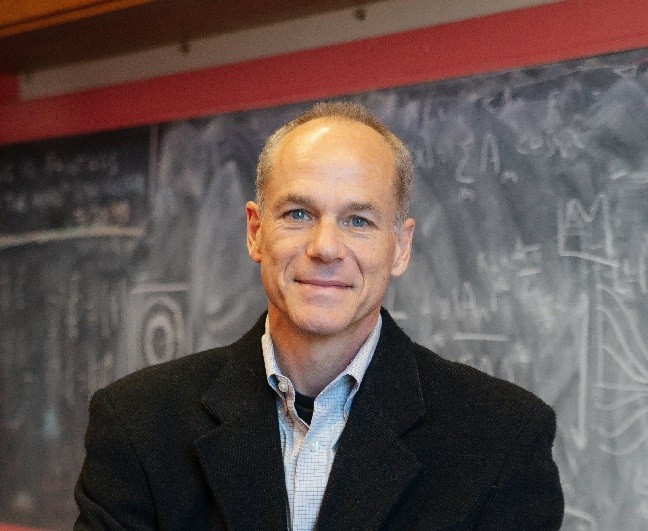
Postado em jun. de 2022
Ciência | Internet e Redes Sociais
"As novas tecnologias têm efeitos colaterais, não é só aquele oba-oba"
O físico analisa "as questões de grande impacto moral" decorrentes do avanço da ciência e antecipa a discussão que traz para a Temporada 2022.
A temporada 2022 do ciclo de conferências Fronteiras do Pensamento debaterá o impacto da tecnologia na vida e nos negócios nos próximos 30 anos. Grandes pensadores da atualidade compartilharão ideias sobre ciência, tecnologia, evolução, inovação, humanidade e sociedade digital.
O físico Marcelo Gleiser, é um dos conferencistas confirmados para esta volta ao presencial. Radicado há quatro décadas nos Estados Unidos – com um período de quatro anos na Inglaterra –, Gleiser, 63 anos, é professor no Darthmouth College, na cidade de Hanover, em New Hampshire, onde vive.
Nesta entrevista, concedida à jornalista Larissa Roso, ele fala sobre o futuro, suas projeções e o impacto no dia a dia das pessoas.
O senhor pode adiantar um pouco do conteúdo da sua conferência?
Provavelmente vou falar dos riscos sociais dessas novas tecnologias. O que já estamos vendo acontecer é que, com o desenvolvimento de tecnologias como machine learning, inteligência artificial e mineração de dados, está se criando toda uma nova classe de técnicos e especialistas que são, na maioria, jovens. E está criando uma classe, que já era estabelecida antes, de pessoas ficando cada vez mais obsoletas no mercado de trabalho, principalmente na área de manufatura, nas fábricas. Com a automação do mercado de trabalho, cria-se um problema social que tem repercussões em todos os países. Vemos isso aqui nos Estados Unidos, onde há um aumento da classe baixa porque muita gente da classe média que trabalhava em mineração, em manufatura, está perdendo o emprego, e não existem programas para reposicionar ou treinar essas pessoas. Certamente é um impacto social e econômico dessas novas tecnologias. As empresas que estão criando essas novas tecnologias estão pouco ligando para esse problema. Está virando um problema político e causa divisões sociais muito grandes. No Brasil, há a mesma coisa com Bolsonaro, o crescimento da extrema-direita, a polarização cultural da sociedade. Isso está se repetindo em vários países. Essa é a grande ameaça: ter esse foco na tecnologia, e, nos impactos sociais da tecnologia, muito menos.
Na sua opinião, isso já deveria estar sendo endereçado de forma mais rápida e objetiva?
O Brasil tem um nível alto de desemprego. O problema é que as pessoas acham que esse é um problema do governo. Não é apenas um problema do governo, é um problema que envolve todos os setores da sociedade, inclusive as empresas que estão criando essas tecnologias. Elas também têm que ser responsáveis pela criação desses programas de retreinamento dos seus trabalhadores. Isso afeta muita gente. Por exemplo, a questão dos carros, caminhões, ônibus autônomos. O que vai acontecer com caminhoneiros, motoristas de ônibus, ônibus escolares, táxi e Uber? O trabalho deles fica cada vez mais obsoleto porque teremos, essencialmente, veículos robotizados. Você pode até botar um motorista ali na frente, mas ele não vai estar dirigindo nada, ele vai ter um papel muito menor. É um problema muito grande o desses milhões de pessoas que, em princípio, podem perder o emprego. E é também um problema de dignidade. Quando você deixa de se ver como uma pessoa produtiva na sociedade, perde sua identificação, sua identidade no mundo, sua dignidade, e isso leva a depressão, raiva, ressentimento, violência. Essas novas tecnologias têm efeitos colaterais, não é só aquele oba-oba, “que bacana”, “olha só, a gente vai ter carro autônomo, vai ter inteligência artificial, vai poder fazer isso e aquilo”. Sem falar em bioengenharia, que também vou mencionar, outro problema bastante complexo. Não é que a gente tenha de parar de evoluir nas tecnologias. O ponto é que, com essa evolução, temos de ter também uma evolução moral na sociedade para entender que não só precisamos atender as necessidades capitalistas de produção de bens, mas também cuidar das pessoas que vão sofrer com esse tipo de desenvolvimento.
O senhor se dedica ao estudo e à divulgação da física e da astronomia, áreas complexas para grande parte da população, mas que geram também fascínio – e isso fica evidente em momentos como o da divulgação do som de um buraco negro pela Nasa, em maio. Qual o tamanho desse desafio?
Faz 25 anos que publiquei A Dança do Universo, meu primeiro livro. Foi quando começou todo esse trabalho mais sério de divulgação científica. O que percebi, ao longo dos anos, é que muito pouco mudou além do interesse das grandes mídias em ter um espaço para divulgação científica. Não há programas na TV aberta dedicados a isso. A série que fiz no Fantástico é coisa do passado. Globo Ciência era um programa totalmente limitado. A TV Futura tem uma audiência baixíssima. O problema é que quem controla essas mídias ainda acha que ciência não vende, mas a verdade é que ciência vende. Quando eu era garoto e estava começando a estudar física, não existia, no Brasil, uma revista de divulgação científica. A única, naquela época, era a Planeta, mais esotérica do que científica, falando de nova era, pirâmides, cristais. Mas agora não: tem Scientific American, Galileu, National Geographic, que são excelentes. Então, existe esse espaço. Onde estamos vendo uma explosão no interesse e no sucesso da divulgação científica, no Brasil, é no YouTube e nos podcasts. Tem toda uma geração, uma moçada mais jovem – e vários deles, devo dizer, modéstia à parte, influenciados por mim, e isso eu sei porque eles me falaram –, que está fazendo um trabalho sensacional de divulgação científica. Tem o Átila Iamarino, o Sérgio Sacani... Uma juventude supertalentosa que está compensando a falta de espaço para a ciência nas outras mídias com uma atividade totalmente individual. Eles é que estão se motivando a fazer isso, e obviamente dá certo.
Isso me parece fundamental para atrair novos interessados. As pessoas estão nas redes sociais desde muito cedo. Pode ser um ímã para chamar novos pesquisadores, não?
É, mas eles não vêm, né? Quantos cientistas famosos brasileiros têm um canal de YouTube, um podcast? No máximo, eles têm uma conta no Twitter. São poucos os cientistas de porte que encontram tempo para fazer isso. Acho lamentável porque os cientistas brasileiros, e vou dizer isso de uma forma bastante aberta, já falei antes, eles têm um certo comodismo que nem é culpa deles. Vem de como a estrutura educacional e de pesquisa existe no Brasil. É sempre suprida pelo Estado. “Vou ganhar uma bolsa da Capes, ou do CNPq, ou da Fapesp, e com isso faço o meu trabalho e não preciso de mais nada.” Existe uma descontinuidade entre o interesse dos cientistas em fazer pesquisa, que obviamente é a coisa mais importante, e o papel social do cientista como pessoa que tem uma missão cultural importante, que é a divulgação do conhecimento. A ciência que eles estão fazendo, financiada pelo governo, pelos impostos que as pessoas pagam, pertence, na verdade, ao público, e não a eles. Então, você deve ao público a satisfação de explicar por que a ciência deve ser financiada, por que vale a pena. Isso não existe, a maioria absoluta, esmagadora, dos brasileiros não tem a menor ideia da pesquisa feita no Brasil, da qualidade dos cientistas brasileiros. Fica meio no escuro. Quando o governo vem e corta o fomento da pesquisa, aí a comunidade científica se mobiliza e reclama, com toda a razão. Mas se existisse um trabalho consciente e constante de divulgação científica, principalmente das entidades mais importantes do país, acho que mudaria a relação do brasileiro com a ciência do Brasil. Incentivaria muito mais jovens a seguirem a carreira científica, algo que está ficando cada vez mais raro.
Será que essa pouca participação, ou pouca visibilidade, dos cientistas não tem a ver com aspectos da rotina de um pesquisador no Brasil? Mal valorizado, com poucos recursos, uma rotina exaustiva de trabalho e aí, nas horas livres, tem ainda abastecer um podcast, um canal no YouTube.
Acho que não, sinceramente. Não acho que o trabalho do cientista brasileiro seja maior do que o do cientista de qualquer lugar do mundo. Todo mundo tem que dar aula, todo mundo tem que escrever propostas de bolsa, todo mundo tem que fazer pesquisa, publicar artigos, ir para conferências, ter alunos de pós-graduação. Acho que não tem a menor diferença. Não acho que o cientista brasileiro seja sobrecarregado em comparação com outros cientistas em qualquer lugar do mundo. Acho que falta um senso de missão social do cientista de querer fazer parte dessa conversa, de querer dividir esse conhecimento com o público em geral. Acho que vitimizar os cientistas brasileiros é uma faca de dois gumes, porque, se eles se mobilizassem mais, eles sofreriam menos, provavelmente, porque a opinião pública estaria ao lado deles. Acaba sendo um ciclo vicioso.
A pandemia parece ter dado reconhecimento tardio aos cientistas no país. O senhor concorda?
Sim, acho bacana que pelo menos uma fração da população brasileira se dê conta de que vacinação dá certo e máscara funciona. Nesse sentido, sim, existiu um certo reconhecimento. Mas, por outro lado, um setor enorme da população continua totalmente alheio a isso.
Muito se lamenta a chamada “fuga de cérebros” do Brasil, que é a perda de cientistas para instituições de outros países. Como isso poderia ser revertido?
Quando vim para os Estados Unidos, 40 anos atrás, havia muitos estudantes que vinham da China e da Índia que queriam ficar aqui para fazer carreira. Hoje em dia, há muito menos estudantes desses dois países, e os que estão aqui, muitos deles, querem voltar para seus países. Por quê? Porque esses países estão criando condições de trabalho favoráveis para a moçada que faz doutorado fora voltar e ter uma carreira no lugar de origem. A China, inclusive, tem todo um projeto de repatriação dessa diáspora científica, com condições de trabalho excelentes. Se o Brasil quisesse fazer uma coisa dessas, não vejo por que não. Mas tem de ter a iniciativa. E acho que, para isso, tem de ter um governo com consciência dessa perda dos cérebros brasileiros, que vão para fora porque não veem como seguir uma carreira científica de sucesso no Brasil. Tenho um tremendo respeito pelos meus colegas brasileiros que ou ficaram no Brasil direto, ou fizeram doutorado e pós-doutorado fora e voltaram e construíram sua carreira. As dificuldades são enormes. Não vejo por que um governo, no futuro, não possa criar iniciativas semelhantes de repatriação de cientistas com condições de trabalho adequadas, salários equiparados com os que são recebidos em outros países.
Uma postagem recente sua no Twitter questiona se há temas que a ciência não deveria abordar, por serem tabus históricos. O embate entre ciência e ética. O senhor pode dar alguns exemplos?
Quando a ciência começa a explorar certas questões que têm um impacto moral muito grande, precisa ser analisada com muito cuidado. Estamos vivendo um momento em que existem áreas da ciência que podem ter um impacto muito grande no nível social e moral. Temos a capacidade de interferir no genoma humano. Isso é sensacional porque pode curar um monte de doenças de origem genética que afligem milhões e milhões de pessoas. A coisa mais nobre que a ciência pode fazer é aliviar o sofrimento humano. Fantástico. Por outro lado, essas tecnologias também podem ser usadas de formas que não são moralmente adequadas. Você pode imaginar governos tentando criar supersoldados, ricos tentando ter superfilhos. Cria-se uma diferenciação gigantesca na sociedade porque haverá uma minoria que terá acesso a essas tecnologias extremamente caras nas próximas décadas e a grande maioria que não vai. Terá uma divisão da sociedade entre os super-humanos e os humanos. Isso certamente vai gerar uma tensão muito grande. Então, até que ponto devemos avançar nessas pesquisas? Até que ponto elas precisam ser reguladas? Quem regula? Quem decide os limites até onde se vai? Será que o ser humano pode ser clonado? Em princípio, não existe nenhuma lei da natureza que proíbe isso, mas quem decide se a clonagem humana deve ser feita ou não? Eu diria que existem, sim, aspectos complicados da ciência moderna que precisam ser abordados, regulamentados, por grupos não só do governo. Tem que ter grupos que representem diferentes setores da sociedade. A face assustadora desse tipo de pesquisa é que você pode fazer muita coisa na garagem, não precisa ter um superlaboratório.
Quais os limites para o conhecimento?
É algo que abordo no meu livro A Ilha do Conhecimento. Basicamente, a ciência é um campo desconhecido, e, quando a gente avança no conhecimento, acha que está se aproximando das respostas finais, mas a verdade é que a natureza do conhecimento é gerar o desconhecimento. Quando avançamos em certos setores, aprendemos coisas que não sabíamos antes e começamos a fazer perguntas que não podíamos ter antecipado. A natureza do conhecimento é uma empreitada sem fim, uma jornada em que, enquanto tivermos curiosidade e financiamento, estaremos sempre podendo fazer perguntas novas. Esses é que seriam os limites do conhecimento: não chegaremos a verdades finais sobre questões complexas da natureza. Sempre vai existir espaço para inovação, para ideias novas aparecerem.
O senhor discute muito a relação entre a ciência e a religião, um tema provocativo, que sempre gera muito debate. Aproveito para recorrer a uma frase recente sua: “Entender a realidade não é uma batalha entre ciência e fé”. Por quê?
Cada uma tem um papel muito diferente e uma contribuição muito diferente a dar para as pessoas. A ciência não vai usar ideias sobrenaturais para tentar explicar a natureza porque esse não é o papel da ciência. O papel da ciência é tentar entender o mundo racionalmente, com recursos humanos e não sobre-humanos. Então, o que a gente puder entender desse mundo, a gente tenta. É o que falei antes sobre os limites do conhecimento. Mas a fé tem um papel na vida de muitas pessoas. Muita gente segue a vida tendo fé em forças que vão além do âmbito científico. A ciência não tem nada a dizer sobre a existência ou não existência de Deus. A ciência está ligada a coisas que podemos medir sobre fenômenos naturais. Quando você fala de uma entidade que está além das leis da natureza, por definição, a ciência não tem nada a dizer sobre o assunto. Ela não pode provar nem refutar a existência de Deus. São conversas muito diferentes. E, fora isso, existe um papel social da religião que é muito importante. Muita gente nem é tão religiosa assim, mas segue as tradições da religião em que cresceu porque isso dá um senso de identidade, de comunidade. Existe um papel que nem tem tanto a ver com o lado sobrenatural da religião, mas com o lado de apoio emocional, social e espiritual que as pessoas precisam para ter uma vida digna. E isso não tem nada a ver com ciência, é sobre o que nós, seres humanos, precisamos para viver bem, que é ter reconhecimento, amor, fazer parte de um grupo em que somos valorizados. Essas são coisas sobre as quais a ciência não tem nada a dizer, ou muito pouco, e a religião tem muito a dizer. São aspectos complementares da complexidade que é ser humano.
Um breve espaço para a cultura pop aqui: o senhor assiste ou já assistiu a algum episódio do seriado The Big Bang Theory?
Sim, já assisti vários. É engraçado, mas não sou um grande fã porque o seriado perpetua aquele estereótipo do cientista como um cara nerd, desajustado social, incapaz de lidar com o sexo oposto. E praticamente não tem nenhuma mulher cientista ali. Um garoto ou uma garota de 13 ou 14 anos vai ver isso e pensar “ah, então você tem que ser um cara estranho para ser cientista”, o que é uma grande besteira. A maioria dos cientistas não são estranhos, de forma alguma. Isso me incomoda um pouco. E, em termos do que eles discutem sobre ciência, é bom. Tem especialistas que auxiliam no roteiro. Então, cientificamente, muitas das coisas que eles falam têm a ver, sim.