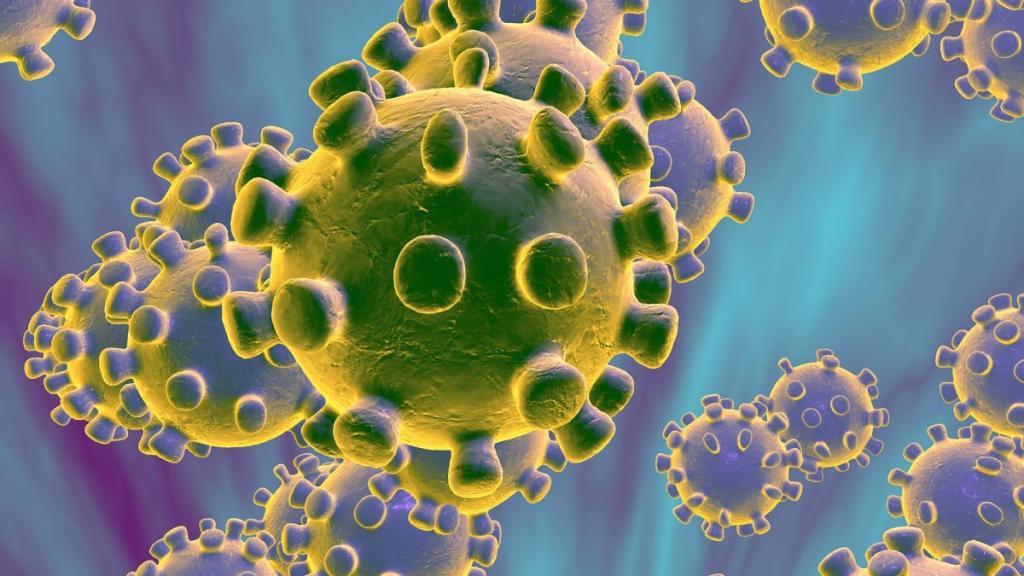
Postado em abr. de 2020
Ciência | Medicina
Como o coronavírus se comporta dentro de um paciente?
"Contabilizamos a disseminação viral de uma pessoa para outra; agora, precisamos começar a contabilizá-las dentro das pessoas", propõe o biólogo e oncologista Siddhartha Mukherjee.
Na terceira semana de fevereiro, quando a epidemia de coronavírus ainda ganhava força na China, cheguei a Kolkota, na Índia. Acordei em uma manhã tórrida – as pipas pretas em frente ao meu quarto de hotel voavam em círculos, erguidas pelas correntes mornas de ar – e fui visitar um altar dedicado à deusa Shitala. Seu nome significa “a fria”. Segundo o mito, ela se ergueu das cinzas frias de uma fogueira sacrifical. Acredita-se que ela é capaz de atenuar não só o severo calor de verão que atinge a cidade em meados de junho, mas também o calor interno das inflamações. Espera-se que ela proteja as crianças da varíola, cure a dor daqueles que a contraírem e amenize a fúria de uma epidemia.

Os indianos praticantes da tika provavelmente aprenderam a técnica com médicos árabes, que a aprenderam dos chineses. Já em 1100, médicos práticos chineses haviam percebido que os sobreviventes da varíola não voltavam a contraí-la (os curados eram designados para cuidar das novas vítimas) e inferido que a exposição do corpo à doença garantia proteção em contatos futuros com a mesma enfermidade. Médicos chineses pulverizavam as cicatrizes da varíola em uma base em pó, que inoculavam nas narinas de crianças utilizando um tubo comprido de prata.
O altar era uma pequena estrutura situada dentro de um templo a poucas quadras do Kolkata Medical College. Ali dentro havia uma pequena imagem da deusa montada em um burro com sua jarra de líquido refrescante nas mãos – a mesma forma como ela vem sendo ilustrada há um milênio. O templo tinha 250 anos, informou-me um zelador. A data equivale mais ou menos ao período em que surgiram os primeiros relatos a respeito de uma misteriosa seita de bramânes que perambulava pela planície indo-Gangética com o intuito de popularizar a prática da tika, uma forma incipiente da vacina. A prática envolvia a extração de material da pústula de um paciente contaminado com varíola – um covil de vírus em estado vivo – e a aplicação desse conteúdo através da perfuração da pele de uma pessoa não infectada. Em seguida, cobria-se o ponto de infusão com um retalho de tecido.
Vacinar as pessoas com o vírus vivo era como se equilibrar em uma corda bamba: se a quantidade de vírus acrescentada ao pó fosse muito grande, a criança sucumbiria à versão mais potente da doença – desastre que ocorria, talvez, em um caso de cada cem. Se tudo corresse bem, a criança enfrentaria uma versão amena da doença e ficaria imunizada para o resto da vida. Por volta de 1700, a prática havia se disseminado por todo o mundo árabe. Nos anos 1760, mulheres no Sudão praticavam tishteree el jidderee (“compra da varíola”): uma mãe pechinchava com outra, negociando quantas pústulas cicatrizadas de uma criança adoecida ela compraria para seus próprios filhos. Era uma arte medida com requinte: os curandeiros tradicionais mais astutos sabiam identificar as lesões com maior probabilidade de portar a quantidade exata de material viral, sem excessos. O termo varíola, comum em toda a Europa, provém do latim “manchado” ou “sardento”. O processo de imunização contra a doença era chamado de “variolização”.
A senhora Mary Wortley Montagu, esposa do Embaixador Britânico em Constantinopla, havia sido ela própria afetada pela doença em 1715, episódio que deixou sua pele, antes perfeita, coberta de cicatrizes. Mais tarde, no interior da Turquia, ela testemunhou a prática da variolização e escreveu maravilhada a suas amigas, descrevendo o trabalho de uma especialista: “A mulher idosa chega com uma casca de noz repleta do material extraído do tipo ideal de varíola e pergunta qual veia você gostaria de perfurar”, e em seguida “coloca dentro da veia a maior quantidade de material que for possível acomodar na ponta de sua agulha.” Os pacientes passavam alguns dias de cama com febre para então, conforme observou Lady Montagu, retomarem sua vida normal incrivelmente incólumes. “É raro que tenham mais de vinte ou trinta feridas no rosto, e elas jamais deixam marcas; transcorridos oito dias, eles ficam tão bem quanto estavam antes da doença”. Ela relatou que milhares de pessoas eram submetidas a esse procedimento seguro todos os anos, e que a doença havia sido contida com sucesso na região. “Tenham certeza de que estou bastante satisfeita em relação à segurança do experimento”, ela acrescentou, “tanto é que desejo testá-lo em meu amado filhinho”. O filho dela jamais contraiu varíola.
Nos séculos após Lady Montagu ter se maravilhado com a eficácia da inoculação, fizemos descobertas inimagináveis nos campos da biologia e da epidemiologia de doenças infecciosas, mas mesmo assim são muitos os enigmas desencadeados pela pandemia de covid-19. Por que ela se espalhou feito uma enxurrada pela Itália, a milhares de quilômetros de seu epicentro inicial, em Wuhan, enquanto a Índia parece ter sido bastante poupada até aqui? Que espécie de animal transmitiu originalmente a infecção aos humanos?
Mas três perguntas merecem atenção particular, porque as respostas a elas poderiam mudar a forma como isolamos, tratamos e cuidamos dos pacientes.
1. O que se pode inferir a respeito da “curva de dose-resposta” da infecção inicial – em outras palavras, é possível quantificar o aumento do risco de infecção quando as pessoas são expostas a doses maiores do vírus?
2. Existe alguma relação entre a “dose” inicial do vírus e a severidade da doença – ou seja, maior exposição resulta em reações mais sérias do corpo?
3. Existem medidas quantitativas a respeito de como o vírus se comporta em pacientes infectados (por exemplo, o ápice da carga viral de seu corpo, os padrões de sua ascensão e declínio) que nos permitam prever a gravidade da doença e o quão infecciosa ela será para os outros?
Até aqui, nas fases iniciais da pandemia do covid-19, medimos a disseminação do vírus entre as pessoas, de uma para outra. Conforme o ritmo da pandemia acelera, precisamos começar a medi-lo dentro das pessoas.
Dada a escassez de dados, a maioria dos epidemiologistas se viu forçada a criar modelos da disseminação do novo coronavírus como se ele fosse um fenômeno binário: expostos e não expostos, infectados e não infectados, pacientes sintomáticos e portadores assintomáticos. Recentemente, o jornal Washington Post publicou uma simulação on-line muito impressionante, na qual as pessoas de uma cidade eram representadas por pontinhos que se movimentavam livremente pelo espaço – as não infectadas em cinza, as infectadas em vermelho (que então passavam a ser rosas, após se tornarem imunizadas). Cada vez que um ponto vermelho tocava um ponto cinza, a infecção era transmitida. Sem intervenções, todo o mar de pontinhos cinzas logo se tornava vermelho. O distanciamento social e o isolamento impediam que os pontos colidissem, reduzindo a disseminação de pontos vermelhos pela tela.
Esta é uma visão geral de como um vírus se irradia por uma população, que o encara como um fenômeno “sim ou não”. O médico e pesquisador dentro de mim (quando ainda era aluno na faculdade, estudei imunologia viral) queria saber o que estava acontecendo dentro dos pontos. Quanto vírus havia em um pontinho vermelho? O quão rápido ele se replicava dentro desse ponto? Como a exposição – o “tempo de contato” – se relacionava às chances de transmissão? Por quanto tempo um ponto vermelho permanecia vermelho – ou seja, como a infecciosidade de um indivíduo muda ao longo do tempo? E como a severidade da doença variou em cada caso?
As coisas que aprendemos com outros vírus – incluindo aqueles causadores da AIDS, SARS e varíola – apontam para uma visão mais complexa da doença, de seu índice de progressão e das estratégias para contê-la. Nos anos 1990, conforme os pesquisadores aprendiam a medir a quantidade de H.I.V. no sangue de um paciente, um novo padrão emergiu. Após a infecção, a contagem do vírus no sangue crescia até atingir um zênite, conhecido como “ápice da viremia”, e os pacientes que apresentavam ápices da viremia mais altos normalmente adoeciam mais cedo; eles também se mostravam menos capazes de resistir ao vírus. Ainda mais previsível que o ápice da carga viral era o chamado ponto de estabilidade – o nível em que a contagem de vírus do indivíduo estagnava após o pico inicial. Ele representava um equilíbrio dinâmico atingido entre o vírus e seu hospedeiro humano. As pessoas com nível de equilíbrio mais elevado tendiam a desenvolver a AIDS mais depressa; já aqueles com um ponto de estabilidade baixo muitas vezes apresentavam “progressões lentas”. A carga viral – um contínuo, e não um valor binário – ajudava a prever a natureza, a trajetória e a transmissibilidade da doença. Cabe mencionar que cada vírus tem sua própria personalidade, e o H.I.V. possui traços que tornam sua carga viral especialmente identificável: ele provoca uma infecção crônica que ataca especificamente as células do sistema imunológico. Ainda assim, padrões semelhantes foram observados em outros vírus.
Do ponto de vista imunológico, isso não é surpreendente. Se o seu sistema é capaz de combater a replicação viral com algum grau de eficiência – em razão de sua idade, genética e outros indicadores de competência imunológica –, você terá um ponto de equilíbrio mais baixo. É possível que uma exposição inicial menor, como no caso das crianças tratadas com tika, também leve a um ponto de equilíbrio mais baixo? Quando confrontando com um desafio menor, o sistema imunológico pode ter maior chance de controlar o patógeno. Em contraste, se você for inundado com diversas exposições a doses elevadas, esse invasor de ágil reprodução pode ganhar um terreno que o sistema imunológico terá grandes dificuldades para reconquistar.
Um estudo bastante engenhoso sobre a relação entre a intensidade de exposição ao vírus e o grau de infecção em seres humanos vem de uma equipe do Centro de Estudos do Câncer Fred Hutchinson e da Universidade de Washington, dos Estados Unidos. Em 2018, um epidemiologista e estatístico chamado Bryan Mayer se juntou a um grupo de médicos e biólogos que pesquisavam um problema cuja solução, à primeira vista, parecia quase impossível. Mayer, que tem trinta e poucos anos, fala com suavidade e precisão: ele escolhe as palavras com cuidado e fala através de frases longas e lentas. “Na faculdade, eu já me interessava pela ideia de uma dose de vírus ou patógeno”, ele me contou. “Mas o problema é que quase nunca é possível determinar a dose inicial, porque só descobrimos que alguém está infectada depois que a infecção já ocorreu.” A maioria das doenças infecciosas só pode ser analisada a partir do espelho retrovisor: quando o paciente já se tornou paciente, o momento crítico da transmissão já ocorreu.
Mas os pesquisadores descobriram uma fonte atípica: um grupo de jovens mães de Kampala, em Uganda, e seus filhos. Alguns anos antes, um pediatra chamado Soren Gantt e uma equipe de médicos haviam examinado essas mulheres e pedido que lhes fornecessem amostras bucais durante um ano. Eles mediram a quantidade de HHV-6 nessas mulheres, um vírus normalmente transmitido através de secreções orais para os filhos logo após seu nascimento, e que provoca febre, irritação e vermelhidão em todo o corpo. Agora, era possível investigar como a quantidade de vírus que elas abrigavam – a “dose” da exposição – afetava a probabilidade de que os recém-nascidos fossem infectados. Gantt, Mayer e seus colegas haviam encontrado uma forma de vislumbrar as dinâmicas da transmissão de uma infecção viral humana desde o seu início. “Nossos dados confirmaram a existência de uma relação de dose-resposta nas transmissões virais do HHV-6”, contou-me Mayer. “Quanto mais vírus você abrigar, maior probabilidade terá de infectar os outros”. Eles haviam conseguido inverter o espelho retrovisor da epidemiologia.
No entanto, existe outro aspecto da transmissão e das doenças: a resposta imunológica do hospedeiro. O ataque viral e a defesa do sistema imunológico são duas forças opostas, muitas vezes conflitantes. O imunologista russo Ilya Metchnikoff, que atuou durante o início do século 20, descreveu esse fenômeno como “embate” – ou Kampf, nas edições alemãs de seu trabalho. Metchnikoff imaginou uma batalha contínua entre os micróbios e a imunidade. A Kampf era uma questão de terreno conquistado ou perdido. Qual era a “força” total da presença microbiana? Que fatores do hospedeiro – genética, exposição prévia, competência imunológica basal – limitavam a invasão microbiana? E por fim: o cenário inicial pendia em favor do vírus ou do hospedeiro?
Isso nos leva a uma segunda questão: uma “dose” viral maior resulta em sintomas mais severos? É impossível apagar de nossas memórias a imagem de Li Wenliang, oftalmologista chinês de 33 anos que soou o alarme após os primeiros casos de covid-19, durante o estágio final de sua doença: um fotógrafo o retratou instantes antes de sua morte, com o rosto rubro e suado, lutando para respirar com o auxílio de uma máscara. Depois tivemos a morte inesperada de Xia Sisi, médica de 29 anos do Hospital Union Jiangbei de Wuhan, mãe de uma criança de dois anos que, segundo relatou o jornal The New York Times, amava o prato quente Sichuan. Outra profissional de saúde chinesa, uma enfermeira de 29 anos que atuava em Wuhan, ficou tão doente que teve alucinações. Mais tarde, ela descreveria a experiência como “andar na beira da morte”.
É possível que a grande severidade de sua doença (no geral, pessoas na casa dos 20 e 30 com COVID-19 geralmente sofrem apenas sintomas autolimitados, semelhantes ao da gripe) esteja ligada à quantidade de vírus à que foram expostos inicialmente? Ao menos dois médicos de pronto-socorro dos Estados Unidos, ambos atuantes na linha de frente da pandemia, também ficaram gravemente doentes: um deles, do estado de Washington, tem pouco mais de 40 anos. A julgar pelos dados disponíveis de Wuhan e da Itália, o índice de mortalidade entre profissionais da saúde não é necessariamente maior, mas será que eles sofrem, de modo desproporcional, os sintomas mais severos da doença? “Estamos ciente da alta letalidade em pessoas mais velhas”, disse à CNN Peter Hotez, especialista em doenças infeciosas e cientista de vacinas da Faculdade Baylor de Medicina. “Mas, por razões que ainda não compreendemos, os profissionais de saúde que atuam na linha de frente correm grande risco de sofrerem com sintomas graves, apesar de sua pouca idade.”
Algumas pesquisas sugestivas foram realizadas com outros vírus. Modelos referentes à influenza desenvolvidos com populações de animais permitem precisar a intensidade das exposições, e os ratos que recebem doses mais altas de um vírus específico da influenza desenvolveram a forma mais severa da doença. Ainda assim, o grau de correlação entre dose e severidade da doença variou muito de uma cepa da gripe para outra. (Curiosamente, um estudo com carga inicial maior de um vírus sincicial respiratório – que pode causar pneumonia, sobretudo em crianças jovens – apresentou uma correlação negativa com a severidade da doença – embora outro estudo sugira que essa correlação é positiva em bebês, o setor da população mais afetado).
As esparsas evidências de que dispomos a respeito do coronavírus sugerem que talvez ele siga o mesmo padrão da influenza. Em um estudo de 2004 sobre o coronavírus causador da SARS, primo do causador da COVID-19, pesquisadores de Hong Kong descobriram que uma carga inicial maior do vírus – medida na nasofaringe, cavidade situada na parte profunda de nossa garganta, acima do palato – estava correlacionada a sintomas respiratórios mais graves. Quase todos os pacientes da SARS que começaram com um baixo nível detectável de vírus na nasofaringe continuavam vivos dois meses depois. Aqueles com nível mais alto apresentaram taxa de mortalidade entre vinte e quarenta por cento. Esse padrão se mostrou verdadeiro independentemente da idade do paciente, condições paralelas de saúde e fatores semelhantes. Pesquisas sobre outra doença viral aguda, a febre hemorrágica da Crimeia-Congo, chegaram a uma conclusão parecida: quanto mais vírus o paciente tivesse no início, maior sua chance de morrer.
Talvez a associação mais forte entre a intensidade de exposição e intensidade da doença resultante dela provenha de uma pesquisa sobre o sarampo. “Quero enfatizar que o sarampo e a COVID-19 são doenças diferentes causadas por vírus muito diferentes com comportamentos diferentes”, alertou em sua fala Rik de Swart, virologista da Universidade Erasmus, em Rotterdam, na Holanda, “mas no caso do sarampo há muitos indicativos claros de que a severidade da doença está relacionada à dose de exposição. E faz sentido, do ponto de vista imunológico, porque a interação entre o vírus e o sistema imune é uma corrida contra o relógio. É uma corrida entre o vírus, que procura células-alvo suficientes para se replicar, e uma resposta antiviral que tem por objetivo eliminar o vírus. Se você der vantagem ao vírus na forma de uma dose ampla, terá maior viremia, maior disseminação, maior infecção e uma doença mais grave.”
Ele descreveu um estudo de 1994, no qual pesquisadores deram a macacos diferentes doses do vírus do sarampo e descobriram que doses mais elevadas de infecção estavam associadas com picos mais prematuros de viremia. Em seres humanos, acrescentou de Swart, as melhores evidências vêm de estudos realizados na África subsaariana. “Se você contrair o sarampo através do contato domésticos, onde a dose e densidade de exposição são maiores (você pode estar compartilhando a cama com uma criança infectada), correrá em geral um risco maior de desenvolver uma forma mais severa da doença”, ele disse. “Se uma criança contrai a doença em um parquinho ou através de um contato casual, a doença costuma ser menos severa.”
Discuti esse aspecto da infecção com o virologista e imunologista da Universidade de Harvard Dan Barouch, cujo laboratório integra a força-tarefa que trabalha para desenvolver uma vacina contra o SARS-CoV-2, vírus causador da COVID-19. Ele me disse que estudos em andamento com macacos do gênero Macaca investigam a relação entre a dose inicial da inoculação viral de SARS-CoV-2 e a quantidade de vírus presente nas secreções pulmonares em momentos posteriores. Ele acredita que possa haver uma correlação. “Se aplicarmos a mesma lógica aos humanos, seria de se esperar uma relação semelhante”, ele disse. “E, logicamente, uma quantidade viral maior poderia provocar sintomas mais severos, pois desencadearia uma resposta inflamatória mais abrupta. Mas ainda se tratam de especulações. A relação entre a dose viral inicial e a severidade ainda é desconhecida.”
Para responder à terceira pergunta (se podemos ou não monitorar a carga viral de um paciente de COVID-19 de modo a prever o desenvolvimento da doença), precisaremos de mais pesquisas quantitativas sobre a contagem de SARS-CoV-2 em pacientes. Um estudo alemão ainda não publicado mediu as cargas virais iniciais de amostras orais extraídas tanto de indivíduos sintomáticos como de indivíduos assintomáticos. Inicialmente, relatou-se que os pacientes que não manifestaram sintomas tinham cargas um pouco maiores do que aqueles que adoeceram. Os resultados eram curiosos. Mas, à época, apenas sete pacientes haviam sido estudados. Sandra Ciesek, diretora do Instituo de Virologia Médica, de Frankfurt, na Alemanha, responsável o estudo, contou-me que nenhuma diferença significativa entre os dois grupos emergiu após uma população maior de pacientes ser examinada. “Não estamos cientes de que haja qualquer correlação nas amostras”, ela me informou. O problema de medir cargas virais em amostras é que elas são “afetadas por fatores pré-analíticos, como a forma pela qual a amostra é extraída”, ela acrescentou. Sabemos que amostras orais são afetadas por pequenas variações no modo como são realizadas. “Mas pode haver uma correlação entre sintomas severos e a carga viral no sangue”. Joshua Schiffer, virologista clínico do Centro Fred Hutchinson e coautor do estudo sobre HHV-6, relata que métodos mais estritos de extração de amostras por via nasal referentes a diversos vírus respiratórios resultaram em contagens virais consistentes e confiáveis, e de modo geral o tamanho dessa carga era compatível com a intensidade dos sintomas e a progressão da doença. Em um artigo publicado online pela The Lancet Infectious Diseases em março, pesquisadores da Universidade de Hong Kong e da Universidade Nanchang relataram que cargas virais em amostras nasofaríngeas de um grupo de pacientes com manifestações graves da COVID-19 eram sessenta vezes maiores, em média, que as cargas de pacientes com sintomas moderados.
Conforme o vírus continua a se espalhar feito um ciclone ao redor do mundo, começaremos a encontrar respostas quantitativas que explicarão como a intensidade de exposição e as subsequentes cargas virais se relacionam à trajetória clínica do COVID-19. Complementaremos o panorama geral da interação entre os pontinhos com um olhar clínico. Como esses insights mudarão nossa forma de administrar pacientes, hospitais e populações?
Comecemos pela relação entre infecção e intensidade da exposição. Pense por um instante em como monitoramos as pessoas que trabalham com radiação. Usamos a dosimetria de radiação, quantificamos a exposição total de um indivíduos e estabelecemos limites. Já sabemos da importância para médicos e enfermeiros de limitarmos a exposição ao coronavírus através da utilização de equipamentos de proteção (máscaras, luvas, jalecos). Mas, para os profissionais de saúde que atuam na linha de frente da pandemia de COVID-19, sobretudo em locais onde equipamentos de proteção são escassos, também podemos monitorar a exposição total e colocar em prática alguns controles de dosimetria viral para que cada indivíduo possa evitar interações sucessivas com grupos de paciente altamente contagiosos.
Estabelecer uma relação entre a dose e a severidade da doença poderia, por sua vez, influenciar o cuidado dos pacientes. Se pudéssemos identificar pacientes pré-sintomáticos com alta probabilidade de terem sido expostos às doses mais elevadas do vírus – alguém que interaja ou more com diversos familiares contaminados (como aconteceu com a família estadunidense Fusco, muito próxima, que teve quatro mortos), ou um enfermeiro exposto a um grupo de pacientes que abrigam grandes quantidades do vírus –, poderíamos prever uma ocorrência mais grave da doença e, em cenários de recursos médicos limitados, dar a eles prioridade para que possam ser tratados mais rápido, mais cedo ou de forma mais intensa.
E, por fim, os cuidados com pacientes de COVID-19 poderiam mudar se começássemos a monitorar a contagem viral. Esses parâmetros poderiam ser estimados através de métodos laboratoriais baratos e amplamente acessíveis. Imagine um processo de dois passos: antes, identificar pacientes infectados, e depois quantificar as cargas virais em suas secreções nasais ou respiratórias, sobretudo em pacientes que provavelmente precisarão do nível mais intenso de tratamento. Correlacionar a contagem de vírus e medidas terapêuticas com os desfechos clínicos pode resultar em diferentes estratégias de cuidado ou isolamento.
O valor de uma abordagem quantitativa também vale para os estudos clínicos. Testes clínicos com medicamentos costumam ser mais informativos quando realizados em indivíduos que ainda não se encontram em estado crítico. Depois que atingem esse estágio, qualquer terapia pode ser muito amena, ou muito tardia. Se a trajetória da doença nesses pacientes for acompanhada através de medições da carga viral (ao invés do mero monitoramento de sintomas), o efeito de um medicamento em diferentes testes pode ser comparado com maior facilidade e precisão.
Também seria bom se pudéssemos identificar pessoas que se recuperaram da infecção, criaram imunidade ao SARS-CoV-2 e já não são contagiosas. Essas pessoas devem atender a dois critérios: ter a ausência de carga viram mensurada e apresentar sinais de imunidade duradoura no sangue (algo instantaneamente verificável com um teste de anticorpos). Da mesma forma como ocorreu entre os chineses durante a epidemia de varíola no século 12, esses indivíduos – sobretudo os profissionais da saúde – têm um valor especial para a medicina: se seu sistema imune não for debilitado, eles podem cuidar dos pacientes mais graves sem adoecerem.
Minha prática clínica é oncológica. A medição e enumeração são os alicerces de minha especialidade: o tamanho de um tumor, o número de metástases, a remissão exata de uma massa maligna após a quimioterapia. Falamos em “estratificação de risco” (categorização de pacientes conforme o estado de saúde) e “estratificação de resposta” (categorização de pacientes conforme a resposta ao tratamento). Tenho os meios para passar meia hora ou mais ao lado de cada paciente descrevendo os riscos, explicando como se mede uma remissão e traçando cuidadosamente um plano clínico.
Em contraste, uma pandemia anda de mãos dadas com o pânico. O caos impera. Médicos italianos estão pendurando bolsas de soro em hastes improvisadas e injetando-as em pacientes deitados em macas improvisadas dentro de ambientes hospitalares improvisados. Em tais circunstâncias, a medição – o teste de carga viral – pode soar como um capricho improvável. Mas essa crise exigirá que estratifiquemos e avaliemos os riscos para que possamos aplicar nossos recursos minguantes da melhor forma possível.
A palavra “epidemiologia” deriva de “epi” e “demos” – “acima das pessoas”. Ela é a ciência da agregação, a ciência dos muitos. Ainda assim, ela funciona de forma mais eficaz quando opera em compasso com a medicina, a ciência do um. Na manhã em que visitei o altar de Shitala em Kolkata, a mesma deusa que apaziguara epidemias passadas e que afetaram populações inteiras também atuava como deusa pessoal de uma mãe cujo filho recém-nascido estava com febre havia uma semana.
Para vencer a Kampf contra a COVID-19, é fundamental mapearmos a trajetória do vírus conforme ele se move através da população. Mas é igualmente fundamental mapearmos sua trajetória dentro de um único paciente. O um se torna os muitos. É preciso contar os dois, pois os dois contam muito.
(Via The New Yorker)

Siddhartha Mukherjee
Médico oncologista e escritor


