
Postado em jun. de 2018
Literatura | Cultura | Mulheres Inspiradoras | Ativismo e Causas Humanitárias
Leïla Slimani responde: feminismo e consciência coletiva
Liberdade e identidade, culpa e maternidade, as lutas das mulheres, a capacidade da literatura de derrubar todas as fronteiras. Leïla Slimani responde as perguntas do público.
O papel da mulher na sociedade, os tabus que envolvem a maternidade e as questões identitárias foram alguns dos temas articulados pela escritora Leïla Slimani, durante sua conferência ao Fronteiras do Pensamento, na noite de segunda-feira (18), em Porto Alegre.
A autora iniciou sua fala reiterando que não se denomina mulher, nem muçulmana, nem marroquina e sim alguém capaz de reinventar a si mesmo e ao mundo. Dividiu com o público histórias familiares, contextualizando suas origens, e relatou os preconceitos sofridos enquanto imigrante em um país europeu: “Aos olhos de muitos franceses, eu sou uma imigrante, uma francesa certamente, mas de origem estrangeira. O que isso diz sobre mim? Isso é suficiente para me definir? Para ser sincera, essas chamadas identidades me parecem totalmente abstratas, tão indescritíveis quanto o vento, tão confusas quanto os contornos de uma casa perdidos em uma névoa espessa.”
Na conferência, a escritora respondeu perguntas do público e da mediadora, a jornalista Cláudia Laitano. Dentre elas, estava a Pergunta Braskem, enviada por nossos seguidores nos canais digitais. Confira abaixo e não esqueça: Leïla Slimani estará no Fronteiras São Paulo nesta quarta-feira. Garanta sua participação!
A mãe sobrecarregada em Canção de ninar. A mulher ninfomaníaca em No jardim do ogro. Em seus livros, as mulheres são retratadas nestas situações de limite, ao mesmo tempo em que as discussões de gênero e feminismo resultam em debates acirrados na sociedade. Estamos mais próximas de algumas conquistas? Ou o caminho tem ficado cada vez mais difícil?
Leïla Slimani: Em algumas sociedades do mundo ocidental, nós já tivemos conquistas. Eu digo isso pensando no fato de que, hoje, uma mulher que nasce na França, na Inglaterra ou nos Estados Unidos e em alguns países, vai ter a possibilidade de dominar o seu próprio destino, vai poder fazer escolhas e não vai ser passiva. A vida não vai se impor sobre ela. Porém, trata-se de uma minoria.
Se analisarmos um país como o meu, o Marrocos, a vida de uma jovem mulher é infinitamente mais difícil do que a vida de um jovem homem. As oportunidades para elas são muito mais limitadas e é assim que medimos a questão da igualdade de gênero. Será que desde o início nós temos as mesmas oportunidades ou será que existem algumas escolhas que não podemos fazer com a liberdade que gostaríamos? Então, eu acho que há muita luta ainda a ser feita.
Para as mulheres que têm esses direitos já conquistados, é importante que elas se deem conta de que ainda há muitas mulheres no mundo que não têm essas oportunidades. Na discussão sobre feminismo, muitas mulheres esquecem dessa questão e ignoram a situação das mulheres no Congo, no Afeganistão, e esquecem que o direito ao aborto ainda é algo raro no mundo. Eu penso que é importante ter essa consciência coletiva.
Leïla Slimani também respondeu outras perguntas do público presente Salão de Atos da UFRGS. Veja abaixo o que escritora tem a dizer sobre maternidade, feminismo, representatividade e preconceito.

Gostaria que você falasse sobre a maternidade na contemporaneidade. Quais são as dificuldades de ser mãe hoje?
Leïla Slimani: Bem, eu acho que temos dois pontos. Inicialmente, a complexidade de ser mãe de uma maneira geral, para além da nossa época atual. Podemos falar da estrutura da dominância patriarcal que causou uma situação de enquadramento da mulher dentro da ideia de maternidade feliz, como se ser mãe fosse o propósito para qualquer mulher. Como se, ao ser mulher, fosse natural ter um filho, amá-lo imediatamente e se sentir realizada com isso. Muitas mulheres não sentiam essa felicidade e se sentiam culpadas por não se sentirem sempre felizes, o que é um tabu. Eu mesma, quando era adolescente, ouvia discussões imensas sobre o que significa ser mãe. Falavam: quando você for mãe, você vai sentir o maior amor que você já sentiu, você nunca mais estará sozinha. Será extraordinário e você se sentirá realizada inteiramente. E, na verdade, é claro que eu amo meus filhos mais do que tudo, não é essa a questão, mas muitas vezes eu me sinto muito solitária com os meus filhos. Eu me senti desamparada, eu me encontrei em momentos em que eu fui agressiva com eles, mesmo sem querer, e eu fiquei envergonhada, culpada. Será que eu sou uma má pessoa ou uma má mãe por sentir essas coisas?
Meu livro quis mostrar que a maternidade é uma coisa complexa, que não é feita apenas de doçura, de afeto e de alegria. Muitas vezes, nós temos aspectos luminosos, mas aspectos sombrios também, e proibimos as mulheres durante muito tempo de falar sobre isso. E eu acrescentaria nessa época atual, a possibilidade de ser mulher e ter uma vida intelectual e profissional independente. Quando cheguei a Paris, morava no Centro e via as mães parisienses todas arrumadas, em vestidos lindos e maquiadas, que andavam de bicicleta e deixavam seus filhos na escola. Filhos lindos, com uma dieta perfeita, só comendo legumes, e elas superinteressantes e cheias de trabalho, chegavam em casa às 19h e iam para uma galeria de arte beber uma taça de vinho. Nunca ficavam maldispostas, mesmo depois de beber algumas taças de vinho e fumar vários cigarros. E eu falava: meu deus, a vida dessas mulheres é perfeita. Eu quero me tornar uma mulher assim como elas. Um dia, eu me encontrei na mesma situação, fiz amigas parisienses e me dei conta que, às vezes, essas mulheres se trancam no banheiro para chorar, porque se sentem solitárias, ou então porque chegam em casa e está tudo bagunçado e os filhos não fizeram a tarefa de casa, e elas precisam fazer compras e pensar no trabalho.
Então, eu me dei conta que essa imagem que eu tinha da maternidade perfeita escondia um grande sofrimento. Muitas dessas mulheres falam: trabalhamos, temos a possibilidade de ter um trabalho. Então, elas não ousam reclamar dessa possibilidade. E há também aquele discurso masculino, de que vocês pediram, reclamaram, e agora precisam aceitar essa dificuldade. Eu quis mostrar, no meu romance, toda essa complexidade com a qual elas se deparam.
Uma das leituras possíveis de Canção de ninar é que o livro culpabiliza a mãe. A mãe dos filhos que morrem não foi uma mãe perfeita. E não se fala muito do pai, da culpa paterna. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão de que o livro pode colocar a mãe no papel de uma mãe ruim, uma mãe que escolheu sair de casa e voltar para o trabalho ao invés de cuidar das crianças.
Leïla Slimani: Não, eu não teria razão em culpabilizar a mãe. Se falarmos do pai, poucas pessoas falam dessa questão: por que pensar na mãe e não no pai? O pai todo mundo acha que é normal e ninguém o acusa de não cuidar bem dos seus filhos. Para mim não tem diferença nenhuma entre a mãe e o pai, por isso eu não posso considerar que um seria mais culpado do que o outro. Não tem nada a ver com culpa. Não é um romance sobre responsabilidade ou culpabilização. É um romance sobre a vida cotidiana.
No mundo inteiro, milhões de pais e mães contratam babás, sendo de famílias ricas ou não, e isso sempre aconteceu. As mulheres sempre tiveram alguém que as ajudasse a criar e tomar conta dos filhos, seja as ricas contratando babás, ou as pobres pedindo ajuda para vizinha quando precisavam sair. Isso fez parte da vida social da gente durante séculos e não é algo novo. O que eu queria era dar um retrato da sociedade contemporânea com relação à figura da babá. A diferença é que antes o papel era bem definido: tinha a empregada doméstica, a babá, e tudo era bem definido. Hoje em dia, existe uma certa ambiguidade. Essa mulher, a Myriam, não quer tratar a babá como uma empregada, mas também não quer tratá-la como uma amiga. Então, é uma relação bem falsa, como se elas fizessem parte de um teatro onde interpretam papéis e fazem de conta que são da mesma família, e as profundas diferenças sociais e culturais estão no centro dessa problemática. Para mim, essa interpretação da culpabilização não tem nada a ver com o foco do romance. É justamente o oposto.
Se a gente pegar a personagem da babá e aproximá-la, a Louise, de Adèle, que é a personagem de No jardim do ogro, a ninfomaníaca, as duas parecem não se acostumar com um certo tipo de realidade. Adèle é uma mulher que tenta ser uma esposa normal em algum momento e Louise tenta fazer parte de alguma coisa, fazer parte de uma família. Ela não consegue ter essa relação materna com a própria filha e acaba tendo com os filhos dos outros. Há alguma aproximação possível entre essas duas personagens?
Sim. São personagens muito próximas. Para começar, são personagens muito sozinhas que se sentem dominadas pela solidão, que falam muito pouco e têm muita dificuldade de se expressar. Então, eu diria que sim, são mulheres que têm muitas dificuldades, mas que fazem de tudo para se adequar. Adèle faz de tudo para ser uma boa mulher, boa mãe, boa esposa, e Louise também, ela tenta ser a Mary Poppins, com o vestido perfeito, com essas brincadeiras um pouco ridículas. São duas mulheres que sofrem por tanto quererem se encaixar em um modelo. Talvez, elas conseguiriam ser felizes se aceitassem suas diferenças, suas condições de marginalizadas, mas elas não aceitam isso. E o sofrimento vem do fato de terem um real fascínio em relação ao mundo banal burguês da classe média, e é isso que as coloca nessa situação terrível.
Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o processo do livro Sexo e mentiras, sobre como foi fazer esse livro que é baseado em depoimentos. Por que esse tema pendeu para o jornalismo e não para a literatura?
Leïla Slimani: É porque esse projeto começou quando eu era repórter e jornalista. Eu passei muito tempo no Magreb e viajei muito pelo Marrocos, e eu encontrei muitas jovens. Naquela época, havia muito desemprego, como ainda é o caso, e muitas pessoas tentavam migrar para a Europa. Quando eu falava com essas jovens, além desses problemas sociais, elas me diziam: eu nem posso falar com meu namorado ou passar algum tempo com ele. Esse espaço da sexualidade e da intimidade era proibido, e eu me dei conta que a questão da sexualidade tem consequências políticas, econômicas e sociais que nunca foram estudadas. Por isso, decidi ir ao Marrocos e pedir que as mulheres me falassem sobre suas vidas sexuais.
Depois da primeira publicação do meu romance, No jardim do ogro, eu fui a um bar tomar um drinque e uma mulher começou a falar comigo e contar a sua vida. Eu não falei nada, fiquei bem silenciosa, só escutando, e ela me falou tudo. Ela me contou sobre a sua educação, sobre a sua mãe e me falou: a minha mãe até que era bem liberal. Ela me deixava ir para a colônia de férias, mas às vezes ela me falava bem baixinho no meu ouvido: não esqueça. Não esqueça de permanecer virgem. E ela me contou que na primeira vez que ela fez amor com um homem ela ouvia a voz da mãe na cabeça dizendo: não esqueça de se manter virgem. Como se fosse algo que a assombrasse pela vida toda.
Eu escutei depoimentos de mulheres muito diferentes. Ouvi histórias de uma prostituta, de uma mulher casada, de uma solteira, de uma lésbica, para saber mais sobre essas ligações que elas tinham com a própria sexualidade.
Na sua conferência, você exaltou as possibilidades e a potência da liberdade em certa oposição às determinações dadas pela origem e pela identidade. No entanto, em todo mundo, ainda hoje, o fenótipo é um imperativo para que alguns tenham uma libertação. Como você analisa essa questão do fenótipo e da cor da pele, algo que ainda é determinante no Brasil?
Leïla Slimani: É uma ótima pergunta. É o que sempre me assombrou, mas eu vejo uma grande diferença entre o que eu vivia na minha infância e o no que eu vivo hoje em dia. Quando eu era criança, eu ia para a França e para a Europa e eu me sentia muito mais visível do que eu me sinto hoje. Eu andava na rua e tinha a impressão de que todos me olhavam e de que eu era diferente. Eu sentia a cor da minha pele, eu sentia que os meus cabelos eram diferentes, eu sentia esse peso. Mas, hoje em dia, somos sociedades mais multiculturais e temos novos modelos que surgiram. Hoje, alguém do meu tipo físico está na TV e ganhou o prêmio Goncourt. É possível. Então, a jovem mulher com os meus traços físicos ou a mulher negra, hoje ou no futuro, vai poder ver na TV alguém com os seus traços físicos e vai poder dizer que é possível. Eu não gostaria que nos sentíssemos como se o nosso futuro já tivesse determinado. Eu não senti que isso era um obstáculo. Eu senti que precisava tomar as rédeas da minha própria vida e como eu não tinha um modelo, eu decidi criar o meu próprio modelo. Eu não quis me enquadrar ou me fechar em uma posição de vítima, porque percebi logo que isso não traria nada de novo para a minha vida.
Deixar de se posicionar como minoria na literatura não é justamente abrir mão da necessidade de reivindicarmos o nosso espaço como mulheres?
Leïla Slimani: Não. Quando eu sou escritora eu não sou mulher. Eu acredito que um escritor não tem sexo, não tem nacionalidade e não tem classe social. Quando eu leio um livro eu não estou interessada no nome do autor, de saber de onde ele vem, pelo menos não antes de ler o livro. Só tem uma coisa que conta na literatura: se o livro é bom ou ruim, se é interessante ou não interessante, se é bem escrito ou mal escrito. Para mim, para qualificar a literatura basta você saber se você gosta ou não.
O livro não precisa ser porta voz de um grupo ou de uma comunidade. O bom livro deve ser capaz de conseguir falar para muitas pessoas. Eu acho que homens podem escrever livros belíssimos sobre mulheres e que mulheres podem escrever histórias incríveis sobre homens. Isso é lindo na literatura: ela nos permite atravessar qualquer fronteira. Seria uma pena estabelecer limites para a literatura. Para mim, a literatura é exatamente o contrário.
Julia Kristeva aborda a “estrangeiridade”: ser estrangeiro em si mesmo. Como mulher, a condição própria da “estrangeiridade” do ser humano tem-se Medéia – a bárbara. A mãe é a estrangeira da mulher?
Leïla Slimani: Acho que sim. Nós temos várias pessoas estrangeiras que vivem dentro de nós mesmos. Eu posso dizer algo que normalmente a gente não diz, porque é tabu: eu tenho dois filhos pequenos, mas às vezes, se eu pudesse, eu gostaria durante uma semana de não ser mais mãe. Durante uma semana, esquecer a mãe que eu sou e não ter que pensar mais neles. E eu posso tirar o marido da cena também, fazer com que todos eles desaparecessem por uma semana.
A gente tem várias pessoas dentro de nós. Eu ainda sou uma menina, e quando estou com a minha mãe eu me sinto criança. Eu também sou esposa, sou mulher, sou um ser com segredos e uma vida que é inacessível para outros. Eu gosto muito do que Gabriel Garcia Márquez diz, que tem uma vida pública, uma vida privada e uma vida íntima que é inatingível. No fundo, nós somos um estrangeiro a nós mesmos e estrangeiros para os outros.
É isso que eu vejo nos meus livros. A gente nunca conhece as pessoas. A gente conhece em parte. Mas sempre há coisas inacessíveis. Eu sempre rio quando escuto as pessoas falando: ah, eu já moro com ele há 20 anos. Ele nunca poderia fazer isso ou aquilo. Eu acho o contrário: quanto mais a gente vive com alguém, menos a gente observa a pessoa. Isso torna as pessoas invisíveis. Eu acho que sempre somos estrangeiros uns para os outros.
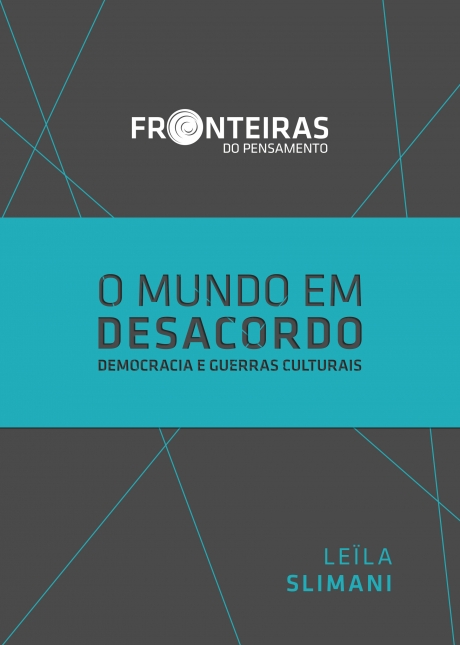
LEMBRE-SE| Leïla Slimani é a conferencista do Fronteiras do Pensamento São Paulo desta quarta-feira. Garanta sua participação nas conferências desta edição, que acontecem em Porto Alegre e São Paulo.
>> Acesse o libreto especial de Leïla Slimani, autora do best-seller Canção de Ninar
O libreto inclui biografia, links indicados e informações de destaque sobre a conferencista.

Leïla Slimani
Escritora e jornalista


