
Postado em dez. de 2021
Sustentabilidade | Governança
Marcio Astrini: “Quando a gente fala em mudança climática, fala em desigualdade social”
Secretário-Geral do Observatório do Clima, coalização brasileira que reúne diferentes organizações da sociedade civil focadas na proteção ambiental, concedeu entrevista exclusiva.
Encerrada no dia 12 de novembro em Glasgow, na Escócia, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-26) frustrou quem esperava ações mais efetivas para enfrentar desafios que se mostram cada vez mais urgentes. O progressivo aquecimento do planeta, segundo os últimos relatórios científicos, aponta para um futuro catastrófico para a vida na Terra, decorrente de desajustes climáticos cada vez mais extremos, desestabilizadores e, em alguns casos, irreversíveis.
O avanço em relação ao uso de combustíveis fósseis, por exemplo, foi tímido. Em vez da progressiva “eliminação” dessa fonte energética, o texto final da COP-26 adotou uma protocolar “redução gradual”, medida que pode não ser suficiente para limitar o aquecimento global a 1,5 grau, em vez dos catastróficos 3 a 4 graus previstos pelos cientistas. Também ficou para a próxima conferência, em 2022, no Egito, uma nova discussão entre países pobres e ricos sobre compensações financeiras para prevenir e indenizar perdas e danos decorrentes de eventos climáticos extremos.
À frente do Observatório do Clima, coalização brasileira que reúne diferentes organizações da sociedade civil focadas na proteção ambiental, Marcio Astrini acompanhou as discussões na COP-26 e concorda que o saldo do encontro teve um gosto de frustração. Em entrevista exclusiva ao Fronteiras do Pensamento, Astrini, secretário-geral do Observatório do Clima desde março de 2020, comenta alguns aspectos que envolvem a discussão sobre o clima, sobretudo a pressão exercida por países com grande peso político e econômico e que ainda dependem muito dos poluidores combustíveis fósseis na sua matriz energética. Comenta ainda o controverso papel do Brasil neste tabuleiro diplomático.
Criado em 2002, o Observatório do Clima conjuga em seu colegiado diferentes frentes de atuação, da geração de dados científicos sobre a emissão de gases à consultoria a empresas e governos sobre questões ambientais. Entre outras iniciativas tem ainda uma frente dedicada a apoiar grupos socialmente mais vulneráveis e um braço voltado a combater a desinformação e as fake news relacionadas ao tema. Suas fontes de financiamento são as próprias organizações participantes, fundações e institutos nacionais e internacionais. E mantém sua independência, segundo Astrini, não aceitando dinheiro de governos.
O meio ambiente é uma pauta incontornável na condução das políticas públicas, na formatação de negócios e nas relações internacionais. E está presente no Fronteiras do Pensamento – Era da Reconexão com Pavan Sukhdev, referência mundial em economia verde. Sua conferência encerra a temporada 2021 do projeto, no dia 8 de dezembro.
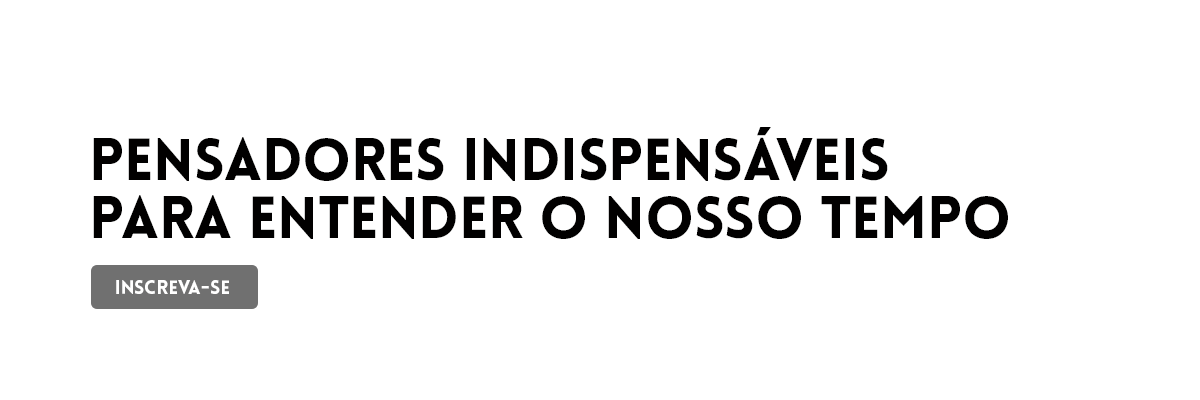
A avaliação geral sobre a COP-26 revela uma frustração com os resultados práticos da conferência, considerando que muitas questões relevantes, diante das urgências climáticas reconhecidas, foram, digamos, empurradas com a barriga para o próximo encontro, em 2022, no Egito. O senhor concorda com este diagnóstico?
Existe sim esta sensação de frustração porque hoje a gente não mede mais as negociações dos países de acordo com os textos que estavam em cima da mesa algum tempo atrás. O que eles precisam entregar no final dessas conferências é algo que converse com o que está acontecendo no mundo real, não algo que converse com textos antigos. Quando a gente compara o resultado com a urgência que os cientistas nos dão, que os acontecimentos de clima que já ocorrem nos dão, a gente vê que o que foi produzido está muito aquém. É como se você estivesse dentro de uma casa pegando fogo e as pessoas lá dentro ficassem dizendo: "Reconhecemos que a casa está pegando fogo, reconhecemos que é uma situação de vida ou morte para todos e iremos tomar uma decisão sobre o que fazer, mas amanhã ou na semana que vem". O texto produzido na COP-26 tem coisas novas, tem inclusões de situações que nunca eram comentadas, mas que só são satisfatórias se comparadas ao que não existia antes. Comparadas ao mundo real, é muito fraco.
Olhando para o copo meio cheio, o que se poderia destacar como avanços alcançados na COP-26?
Tem alguns avanços que aconteceram fora da conferência. O primeiro foi o volume de participação das populações indígenas ao redor do mundo, principalmente brasileiras. O segundo foi o tamanho da mobilização popular pelo clima, principalmente da juventude, as passeatas e as intervenções ocorreram em maior quantidade e maior volume. A cobertura de imprensa também foi muito grande. Com relação ao texto, tem a menção aos combustíveis fósseis, especificamente ao carvão, apontados como uma ameaça ao clima, e que em algum momento precisará ser interrompido o uso desses combustíveis. É algo que não tinha, então é positivo. Mas é muito pouco, depois de 26 conferências, colocar no papel o reconhecimento do óbvio. Nestes últimos 30 anos em que as conferências aconteceram, 73% das emissões de gases foram causadas por combustíveis fósseis e só agora a gente vai dizer que eles precisam ser descontinuados. O texto avança de forma muito lenta e a gente não tem mais o luxo do tempo.

O fato de países com grande peso econômico como China e Índia mostrarem resistência a iniciativas para eliminar o uso de carvão, por ainda dependerem muito dele em suas matrizes energéticas, é um problema?
Um problema enorme. São economias e populações grandes. São nesses países, nos principais emissores, que as mudanças têm de acontecer, Estados Unidos, China, Índia, Brasil, Rússia, Indonésia. A China e os Estados Unidos, além de fazerem as mudanças necessárias, precisam ter a iniciativa, o protagonismo nessas negociações e ações. O acordo de Paris só existe porque houve uma negociação entre China e Estados Unidos. Pelo poder econômico e influência que exercem, eles têm uma capacidade enorme de liderança sobre outros países. Quando esse chamado G2 se mobiliza, a gente tem resultados bons, rápidos e concretos. Quando não assumem a responsabilidade e não tem uma coerência, uma organização conjunta, fica mais difícil.
O Brasil foi representado na COP-26 por visões opostas na questão ambiental. De um lado, a comitiva oficial vendendo a ideia de que tudo vai bem. Do outro, diferentes organizações alertando que as coisas não estão nada boas. É uma situação que provoca estranheza?
Temos duas situações.Temos o Brasil real, que é o dos indígenas, dos governadores, dos parlamentares, dos ambientalistas, dos cientistas, dos quilombolas, dos empresários que estavam lá. E temos o Brasil criado a partir da fantasia do governo federal. Ninguém nega a importância histórica e atual do Brasil na questão ambiental e nem as riquezas preservadas que o país tem, isso é motivo de orgulho. O que é motivo de crítica internacional é o comportamento do presidente da República. Bolsonaro é o maior risco para essas riquezas que temos. Nós tínhamos dois estandes do Brasil lá (em Glasgow), nenhum outro país tinha. Um estande onde só o governo ou pessoas que concordavam com ele poderiam falar. E tinha outro estande, o da sociedade civil, onde tinham governadores, parlamentares, pretos, brancos, indígenas, gente de outros países, com eventos nacionais e internacionais, ministros de outras nações, banqueiros, trabalhadores rurais. Todo mundo deu sua opinião, que podia ser convergente ou divergente, era um espaço de debate. Esses dois mundos mostram a distância entre o governo e a sociedade civil.
Qual a dimensão dos prejuízos políticos e econômicos que a postura negacionista em relação ao meio ambiente pode gerar?
A União Europeia publicou agora o primeiro texto das regras de proibição de importação de produtos vinculados ao desmatamento. A Europa e os Estados Unidos têm legislações esperando votação no Congresso. Durante a conferência, a China fez uma declaração dizendo que adotará regras para evitar a entrada de produtos de mercados envolvidos em desmatamento. O que estes países estão dizendo é que a era do desmatamento está chegando ao fim. Temos uma política ambiental divorciada dos rumos da economia global. Isso bate no agronegócio exportador, bate na geração de emprego e renda. Impacta todo mundo.
A discussão sobre o meio ambiente no Brasil costuma destacar a Amazônia, mas diante da dimensão da crise climática quais outras regiões do país também estão sob risco e precisam de atenção?
Vou citar três. Primeiro, são as zonas costeiras, onde vive cerca de 20% da população. Existem estudos preliminares que demonstram que haveria uma perda acentuada de infraestrutura urbana e de serviços essenciais caso o aquecimento atingisse um aumento de três a quatro graus e provocasse uma elevação do nível dos oceanos. Afetaria os serviços de portos, aeroportos, hospitais, vias de transporte, escolas, exportação de produtos e mobilidade urbana nestas áreas de risco. Somos um país com baixa capacidade de investimento diante das necessidades da população. Se a gente perder o pouco que tem, vai deixar a população ainda mais desassistida. E nas zonas costeiras também ficam ameaçados os manguezais e os barcos pesqueiros que são fontes de renda e alimentação para uma quantidade enorme de brasileiros.
A gente tem outro cenário no semiárido, principalmente do Nordeste. Tem a perspectiva de que, com o aumento da temperatura, se enfrente períodos de secas mais severas e prolongadas em intervalos de tempo muito menores. Hoje, a gente tem duas incidências de secas extremas a cada 10 anos. No cenário de aumento de três a quatro graus da temperatura, seriam uma a cada dois anos. Isso levaria à perda de áreas agricultáveis, o que traria uma situação de colapso para algumas comunidades. Perdendo a capacidade produtiva nesses locais, famílias, comunidades e municípios perdem a capacidade de se sustentar e criam-se fluxos migratórios. Esses fluxos vão pressionar ainda mais os serviços públicos das grandes capitais, que já têm menor capacidade de atendimento da população. Todas essas circunstâncias levam ao empobrecimento geral, a uma maior desigualdade.
O terceiro é o aumento de doenças tropicais, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Incidências de diarreia, leishmaniose, chicungunha, dengue e outras doenças relacionadas ao calor extremo ou ao prolongamento de períodos de calor. Existem estudos que apontam que crianças abaixo de cinco anos e idosos ficam numa faixa de risco ao enfrentar períodos com temperaturas médias acima de 30 graus
Mudança climática não é um tema de cientistas, ambientalistas e diplomatas. Quando a gente fala em mudança climática, fala em desigualdade social. Mudança climática é, basicamente, a depender do cenário, quem vai ter capacidade de sobreviver, a que custo, e quem vai conseguir se adaptar. E quem vai conseguir sobreviver e se adaptar são as populações mais ricas, com mais recursos, que têm boa moradia, bom acesso à saúde, boa alimentação e saneamento básico. Vivemos num país com extrema desigualdade social. As pessoas que vivem na parte de baixo da tabela não vão ter dinheiro e nem a assistência do Estado para se adaptar. A conta mais salgada vai ficar no colo delas.


