
Postado em mai. de 2021
Arte | Filosofia | Cultura
Susan Sontag, Simon Schama e o poder das imagens
A comunicação que as imagens fotográficas e pinturas exercem sobre a percepção e sensibilidade humana é objeto de reflexão por Júlia Corrêa.
Em uma reunião de ensaios escritos na década de 1970, que originaram o livro Sobre Fotografia (Companhia das Letras), a escritora e crítica americana Susan Sontag propõe reflexões sobre as mudanças vivenciadas pelo olhar humano desde a invenção da fotografia no século XIX. Logo na introdução da obra, ela avalia: “Ao nos ensinar um novo código visual, as fotos modificam e ampliam nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que temos o direito de observar. Constituem uma gramática e, mais importante ainda, uma ética do ver. Por fim, o resultado mais extraordinário da atividade fotográfica é nos dar a sensação de que podemos reter o mundo inteiro em nossa cabeça — como uma antologia de imagens”.
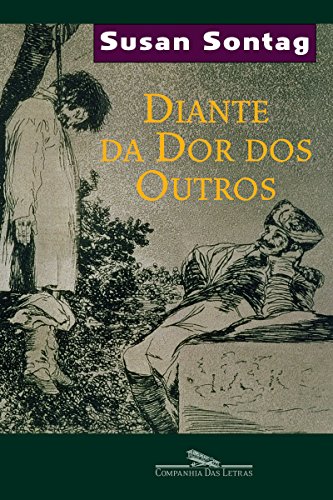
Já em um de seus últimos ensaios publicados em vida, Diante da dor dos outros (Companhia das Letras), de 2003, Sontag volta sua atenção a um tema explorado em Sobre Fotografia para trazer novas perspectivas à discussão. Qual seja, a hipótese de que ver por meio de fotos constituiria um gesto que “fomenta o distanciamento emocional”. Se é verdade, como a autora afirmara antes, que podemos reter o mundo inteiro em nossa mente através das imagens, o quanto esse processo não nos induz a uma perda de sensibilidade em relação a tantas tragédias que nos são transmitidas diariamente?
Podemos encontrar um caso ilustrativo disso na atual realidade brasileira. Ao longo do último ano, fomos bombardeados por imagens de hospitais lotados, familiares de pacientes em desespero e médicos em situações de extrema tensão. Muito se fala numa naturalização desse cenário. Não por acaso, com a morte do ator Paulo Gustavo no início deste mês, a imprensa chegou a estampar imagens dele sob manchetes como “A face da tragédia”, conferindo-lhe status de símbolo. Por trás disso, estaria a lógica de que, por envolver uma pessoa amplamente conhecida no país, aqueles que não viveram a situação em seu próprio lar poderiam, enfim, romper com o estado de distanciamento emocional.
Susan Sontag, no entanto, nos surpreende com um argumento contrário, em muitos aspectos, às teses que reforçam a suposta indiferença ao sofrimento causada pela profusão de imagens. Com a originalidade que lhe é característica, a escritora sugere, em Diante da dor dos outros, que as pessoas não estão necessariamente menos sensíveis às aflições humanas. “As imagens têm sido criticadas por representarem um modo de ver o sofrimento à distância, como se existisse algum outro modo de ver. Porém, ver de perto — sem a mediação de uma imagem — ainda é apenas ver”, argumenta ela.
Na conferência realizada para o Fronteiras do Pensamento em 2008, o historiador britânico Simon Schama inicia sua exposição lembrando exatamente deste último ensaio de Sontag, de quem era amigo. Ele se propõe a pensar questões suscitadas por ela, dedicando-se, entretanto, “à tentativa ocasional e ambiciosa da arte de enfrentar o desafio de fazer algo mais profundo do que a linguagem geral da fotografia”. Certamente, diz ele, há imagens fotográficas capazes de “fixar a verdade de um modo que a arte não o faz”. Um exemplo é o célebre retrato, tornado ícone dos atentados de 11 de Setembro, de trabalhadores de Nova York cobertos por poeira, a andar sobre arquivos despedaçados.
>>A conferência completa de Schama está no livro Pensar a Filosofia - Série Fronteiras do Pensamento.

Há momentos, contudo, em que uma pintura parece se revelar mais eficaz na missão de fazer o espectador se comunicar com o sofrimento alheio. O historiador evoca, por exemplo, um episódio testemunhado por ele em Madri. Em 2005, uma pequena mostra homenageava as vítimas do atentado terrorista da Al Qaeda à estação de Atocha um ano antes, com uma série de vídeos fotográficos que relembravam o ataque. Schama estava na cidade para gravar, a poucos metros do local, um filme sobre Guernica e viu muitos dos visitantes que saíam da exposição aproximarem-se e pararem diante da obra-prima de Picasso. “O que era surpreendente é que [...] encontravam na linguagem de um descomprometido trabalho de arte moderna algo que não parecia disponível na linguagem da fotografia e da filmografia das imagens convencionais da mostra; e assim elas se aproximavam para contemplar a pintura em meditação silenciosa”.
Isso é possível, segundo o historiador, pois existem artistas que não acreditam que a inventividade da arte seja comprometida por sua “atenção ao sofrimento e à calamidade no mundo público”, o que origina as expressões mais variadas nas representações da dor humana. Picasso, por exemplo, teria criado Guernica pensando em fazer algo que excedesse o modo como o mundo digeria notícias no fim da década de 1930. Buscou mostrar os horrores da Guerra Civil Espanhola, sem deixar de invocar a tradição da pintura antiga. Três séculos antes, nos revela também Schama, Johannes Vermeer retratou a cidade de Delft de uma forma idealizada, apesar das marcas deixadas por uma grande explosão de um depósito de pólvora. O caso do holandês seria um exemplo de que “a arte pode registrar o horror e a catástrofe representando o seu oposto, tentando de algum modo reparar o que mãos humanas, acidente, infortúnio ou mesmo a obra de Deus destruiu”.
Com Picasso e Vermeer, além de outros célebres artistas citados na conferência, Schama busca lembrar como todos eles nos fizeram resolutamente olhar para a natureza frágil do que chamamos de civilização; para a vulnerabilidade de nossa própria condição. Algo não muito diferente, em última instância, das qualidades apontadas por Sontag em relação às imagens fotográficas, cuja onipresença em nosso dia a dia constituiria um bem em si mesmo, por “ampliar a consciência de quanto sofrimento causado pela crueldade humana existe no mundo”.
* Júlia Corrêa é jornalista e mestranda em Teoria Literária e Literatura Comparada na Universidade de São Paulo (USP)


